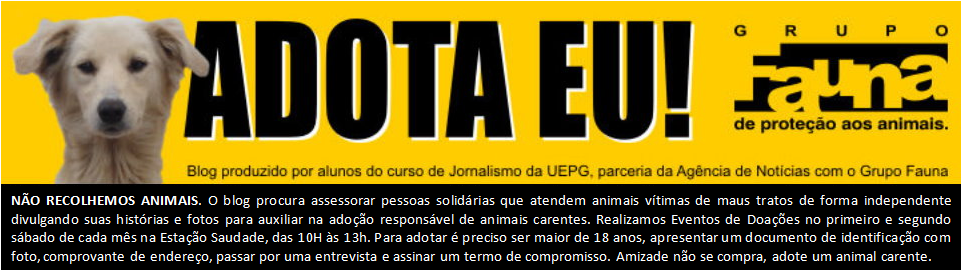Pesquisador da UEPG alerta sobre efeitos das mudanças climáticas em populações mais vulneráveis


Há 23 anos na pesquisa sobre o clima, professor Gilson Campos Ferreira da Cruz, do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), ministrará palestra “Emergência Climática e Sociedade”, nesta quinta-feira (31), às 19h, no Grande Auditório da UEPG, Campus Central. Doutor em Geografia Física, pela Universidade de São Paulo (USP), em 2009, com doutorado sanduíche na Universidade de Lisboa, Gilson Cruz integra o projeto Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação (NAPI) – Emergência Climática, que envolve as sete Universidades Estaduais do Paraná, IBGE, PUC-PR e UFPR, com recursos financeiros da Fundação Araucária.
Como palestrantes, a mesa contará também com os professores Francisco de Assis Mendonça, Titular do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Luiz Paulo Gomes Mascarenhas, coordenador-geral da Superintendência Geral de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo do Estado do Paraná.
O evento integra a programação da 2ª Mostra do Setor de Ciências Sociais Aplicadas (Cesisa) da UEPG, que nesta edição aborda o tema “Emergência Climática e o Compromisso das Profissões”, nos dias 30 e 31 deste mês, no Campus Central. O evento conta com a exposição dos cursos que integram o Setor: Psicologia, Jornalismo, Comércio Exterior, Turismo, Economia, Administração, Serviço Social e Ciências Contábeis, além dos três programas de pós-graduação e cursos de Ensino a Distância (EAD).
Gilson Cruz também é criador e coordenador da Estação Meteorológica e do Laboratório de Climatologia e Estudos Ambientais da UEPG. Na entrevista exclusiva ao Pauta Ambiental e em parceria com o Portal Mareli Martins, serviço de extensão em Jornalismo da UEPG, o professor falou sobre os desafios da sociedade para enfrentar os impactos das mudanças climáticas em consequência do aquecimento global, nos contextos de Ponta Grossa, Brasil e no mundo.
Gilson Cruz falou sobre a importância da 30ª Conferência da Partes (COP 30) sobre o Clima, das Organizações das Nações Unidas (ONU), que será realizada em Belém, no Pará, em novembro deste ano. Sobre o aquecimento global, o professor fez o alerta: “Populações mais vulneráveis vão sentir primeiro e mais forte os efeitos das mudanças climáticas”. De acordo com o pesquisador, “os efeitos, as consequências dessas mudanças climáticas são, na verdade, emergências climáticas que já estamos vivendo. A gente chegou nesse momento de emergência climática porque há 40, 50 anos atrás, quando se começou a falar da possibilidade de o que a gente estava fazendo ia mexer com o clima, ainda estava muito longe. Então, a gente não conseguia convencer as pessoas”.
Confira a entrevista completa, realizada pela estudante do 3º ano do Curso de Jornalismo, Amanda Grzebielucka, sob a supervisão da professora Hebe Gonçalves, coordenadora do Pauta Ambiental.
Sobre a 2ª Mostra do Setor de Ciências Sociais Aplicadas da UEPG, com o tema “Emergência Climática e o Compromisso das Profissões”, qual a importância de se debater a questão e como esses futuros profissionais de diversas áreas podem se engajar nas pautas climáticas?
Todas as pessoas, de alguma forma, podem fazer alguma coisa em relação às mudanças climáticas e com relação às questões ambientais. Vejo que qualquer profissão e qualquer pessoa tem como se envolver e fazer alguma coisa do ponto de vista pessoal. Em qualquer área, sempre a gente tem a oportunidade de abordar esses assuntos, de colocar opiniões, de colocar o conhecimento para a sociedade como um todo. É legal que tenha esse conhecimento da área ambiental e da área climática para que possa usar da sua habilidade, da sua possibilidade de se expressar, falar sobre as questões ambientais. As questões climáticas estão envolvidas em tudo isso e hoje é um tema para todo mundo discutir e para todo mundo fazer a sua parte.
Quais ações podem ser tomadas para melhorar a situação climática, não só de Ponta Grossa, mas do Estado, do Brasil e do mundo?
Eu sempre digo que a mudança climática pode ser global, mas ela começa no local. No momento que queimamos gasolina, óleo, combustíveis fósseis nos automóveis, nos ônibus, no meio de transporte, na indústria, nós individualmente e enquanto indústria, empresa de transporte, estamos contribuindo para o aquecimento global e para a mudança climática global.
Essa mudança climática começa no local. Quando a gente constrói as cidades, a gente remove vegetação. Muitas vezes a pessoa nem percebe. Ela já nasce dentro de uma cidade, às vezes grande. Então, ela não tem nem essa percepção de que um dia aquilo foi uma mata ou foi um campo. A cidade de hoje é resultado da substituição de um ambiente natural, com vegetação natural para um ambiente artificial produzido pelo homem.
Isso resultou em mudança climática. Por exemplo, quando Ponta Grossa foi construída ou à medida que ela vai crescendo, a gente abre um novo loteamento, derruba a mata, ocupa um espaço natural novamente, gera uma mudança climática naquele momento. Depois, essa mudança climática fica estabelecida, consolidada. Ela não volta mais para as condições naturais. Lógico que depende do tamanho das cidades. Mas, de uma maneira geral, as áreas urbanas são responsáveis por diferentes aspectos das mudanças climáticas. Seja pela mudança no uso do solo, pela substituição das matas, pela queima dos combustíveis fósseis, pela produção de resíduos, que vai resultar nos lixões, em metano na atmosfera, que são gases do efeito estufa, e o dióxido de carbono, no caso dos combustíveis fósseis.
A emergência climática que estamos vivendo hoje não tem como a gente parar. O que vem acontecendo, que vai acontecer nesses próximos anos, isso não muda mais. Vamos ter que nos adaptar. Então, a gente precisa tornar as cidades mais resilientes, tornar as pessoas mais resilientes, mais preparadas para coisas como a enchente do Rio Grande do Sul, por exemplo, para a enchente daqui.
A gente precisa ter sistemas de alerta, fazer pesquisas, monitorar dados. É preciso disparar alertas para que as pessoas não sejam surpreendidas pelas águas, pelas cheias. Os ventos são mais complexos, mas é preciso estudar, medir, analisar os ventos, entender essa dinâmica dos ventos. O vento, quando ele entra na cidade, toma direções totalmente aleatórias, diferentes do que é o vento natural.
Então a gente precisa entender tudo isso para que a população sofra menos, tenha menos impacto. Precisamos pensar em construções mais inteligentes, construções sustentáveis, que a gente use menos energia. Quando a gente pensa em como posso reduzir o meu consumo de combustíveis fósseis, é reduzindo o consumo de energia, diminuindo toda essa cadeia do processo industrial, embalagens descartáveis, tudo isso. Precisamos, nos dias de hoje, nos adaptar. Para o futuro, precisa mudar a matriz energética, passar a utilizar combustíveis menos agressivos, ser possível evitar os combustíveis fósseis, porque a queima dos combustíveis fósseis é o grande responsável para o efeito estufa.
Então, precisa de ações, desde a escala local, desde o indivíduo. A gente precisa atuar em todas as linhas e na educação do povo como um todo. A gente vai conseguir mudar isso na esfera política, naqueles que tomam a decisão, atuando aqui, na base, porque um dia essas pessoas vão passar ou passaram pelo sistema da educação. Quando a gente consegue atingi-los, a gente consegue mudar essa história.
Uma das minhas perguntas era justamente isso. Como que a urbanização, o processo de urbanização, afeta o meio ambiente e a questão climática? E como o senhor avalia essa situação em Ponta Grossa?
Tem muita coisa para se falar sobre essa relação da cidade com o ambiente, da cidade com o clima e as mudanças que a gente provoca. Uma cidade como Ponta Grossa, por exemplo, que tem características diferenciadas em relação a outras cidades do mesmo porte, e uma dessas características é o fato da cidade estar num alto. Temos vários arroios, vários rios que nascem a partir desse centro da cidade. E o que Ponta Grossa foi fazendo com esses arroios? Ela foi transformando esses arroios em esgoto, historicamente isso aconteceu.
Com o passar do tempo, isso melhorou. Essas condições mudaram até por toda a luta que a gente vem fazendo em função das questões ambientais. Desde a década de [19]70, [19] 80, que a gente vem discutindo e trabalhando para que deixasse de existir os lixões a céu aberto, para que deixasse de poluir os arroios, os rios. Quer dizer, essa luta lá de 40, 50 anos atrás surtiu um certo efeito. Ponta Grossa melhorou bastante, mas praticamente todos esses arroios que nascem no centro da cidade – são mais ou menos em torno de nove e, se a gente levar em consideração o centro expandido, seria algo em torno de uns 12 a 13 arroios – estão todos poluídos. Uns mais, outros menos, mas estão todos poluídos.
No impacto ambiental, quando a gente olha para Ponta Grossa, o bairro de Uvaranas, onde está o campus da Universidade [UEPG], é um bairro que está todo voltado para abastecer o Rio Verde, que é um rio de um tamanho razoável. Os afluentes da esquerda do rio começaram a ser poluídos quando nasceu a cidade.
O arroio Pilão de Pedra, que é um dos arroios afluentes do Rio Verde, nasce embaixo da Praça Barão do Rio Branco. Quando a cidade nasceu, ela já nasceu comprometendo a bacia do Rio Verde. E a bacia do Rio Verde pega todo esse lado do bairro Uvaranas.
Veja o quanto a gente vem comprometendo a bacia do Rio Verde. Isso para falar de uma das bacias hidrográficas extremamente atingida, poluída, contaminada pelo processo de urbanização. Esse processo de urbanização, que começou bem devagar no centro, se espalhou para o lado do Uvaranas e para todos os outros lados da cidade.
E os rios foram sendo cada vez mais contaminados. Essa é uma primeira forma de a gente olhar para essa questão de urbanização e do impacto ambiental. Mas se olharmos para a cidade e a questão do clima, cada vez todo o processo de urbanização é danoso do ponto de vista climático.
Ponta Grossa é uma cidade espalhada. Quanto mais você espalha a cidade, mais áreas você ocupa, mais você transforma essa paisagem. Mais você substitui áreas verdes por áreas construídas. Nessa substituição, a gente provoca a mudança do clima local. Então a gente cria um clima quando a gente constrói a cidade.
E Ponta Grossa não fez diferente. O processo de verticalização que vem acontecendo agora mais recentemente – e tem aumentado os prédios em Ponta Grossa – provoca uma série de outras consequências climáticas, mudando a direção do vento, a velocidade do vento, a temperatura no entorno dos prédios, aumentando áreas de sombra. Então, existem impactos no entorno desses edifícios e impactos destes edifícios, que se prolongam para áreas bem extensas da cidade.
Nem a urbanização, nem o processo de expansão horizontal é bom e nem o processo de expansão vertical é bom. Mas é necessário. Dependemos de tudo isso para viver.
Ninguém quer mais morar nos matos. É verdade. Todo mundo quer morar na cidade.
E quanto mais asfaltada, quanto mais pavimentada, melhor. Só que, do ponto de vista ambiental, é pior.
Como as mudanças climáticas desencadeiam desastres naturais? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente viu as enchentes. Aqui a gente tem bastante episódios de ventanias que acabam destelhando casas etc. Poderia explicar qual é a característica de Ponta Grossa e como essas mudanças climáticas impactam e desencadeiam mais desastres como esses?
Ponta Grossa é naturalmente Ponta Grossa pela proximidade que ela tem da Escarpa Devoniana. Quando a gente vai para a Itaiacoca, a gente está indo para a Escarpa Devoniana. Em torno de 15 quilômetros daqui.
É uma região de ventos. A gente tem uma condição de localização em termos de altitude, de posição em relação à serra, à escarpa que é uma posição que favorece os ventos. Do ponto de vista natural, isso vai acontecer.
À medida que se tem a cidade nos pontos mais altos, como o centro, a avenida Carlos Cavalcanti, que vai para o Uvaranas, a avenida que vai para a Nova Rússia e a que vai para a Oficinas, são todas vias em pontos altos da cidade. Esses pontos altos da cidade, naturalmente, eles teriam uma dinâmica de aquecer durante o dia. Essas áreas mais altas têm uma tendência de ficarem mais aquecidas. Isso faz com que tenha ventos que vão soprar da periferia, do entorno da cidade para dentro da cidade.
Quanto mais vou intensificando isso, maiores vão ser os impactos e mais me aproximo de eventos extremos. Soma-se isso com as dinâmicas climáticas que nós temos aqui, de entradas de massas de ar fria, formação de frentes frias. Tudo isso vai potencializar eventos com ventos fortes, o destelhamento de construções e que não escolhe muito onde. Depende muito mais dos sistemas regionais, dos sistemas de macro escala para que a gente tenha, por exemplo, esses ventos atuando na Nova Rússia ou atuando em Oficinas, ou mais para o lado de Uvaranas. A gente sempre diz que a atmosfera, do ponto de vista climático, é um caos, ela é caótica.
Nesse sentido, quanto mais eu crio condições para alimentar esses sistemas locais, dou munição, eu crio uma condição para que eventos extremos, para desastres naturais, relacionados principalmente com o vento. Mas também tivemos episódios no passado de inundações no Arroio da Ronda, no Madureira, na Palmeirinha. A Palmeirinha ainda tem alguns eventos de cheias que atingem a população, mas no passado atingia muito mais. Com o passar do tempo, as administrações do município foram atuando para minimizar, resolver, retirar o pessoal das áreas de risco.
Você consegue conviver com isso, se adaptar a essas condições e ir se preparando cada vez mais, porque a tendência, em termos de futuro, é que esses eventos vão se tornando cada vez mais fortes e mais frequentes. É o que a gente espera do ponto de vista das mudanças climáticas. E a gente dá a contribuição local. A gente vai aumentando esse processo de urbanização, asfaltando mais ruas, ampliando as áreas impermeáveis. Isso só acelera o escoamento superficial, altera os ventos e tudo mais.
Como o senhor observa o posicionamento do poder público, seja da Prefeitura local ou do Estado do Paraná, sobre a emergência climática?
Existem questões dentro da área ambiental que estão muito atreladas às questões políticas. Política de município, política estadual e política nacional também. Às vezes a gente não percebe, mas às vezes deputados, vereadores alteram uma determinada lei e mudam toda a forma com que você vai lidar com a questão ambiental.
A gente vai encontrar hoje uma legislação muito mais frouxa do que foi no passado. A gente começa a ver algumas ações – pode ser discutível se são ações que têm um custo-benefício – que a gente sabe que vão resultar em impacto ambiental, que vão aumentar os impactos ambientais, mas que acabam, muitas vezes, sendo legais por alterações na lei, para que, dentro dessa nova lei, aqueles empreendimentos pudessem ser realizados. Existem coisas positivas que aconteceram ao longo desse tempo. Estou há uns bons anos, atuando na área ambiental e na área climática e não dá para a gente negar que mudanças ocorreram para o bem, inclusive.
Desde, por exemplo, a questão da varrição de rua no centro da cidade, que era uma coisa que não existia há 40 anos atrás. Isso foi se acrescentando a algumas ações, tornar a cidade um pouco mais limpa, diminuir a quantidade de lixo nas ruas, porque todo o lixo que a gente joga na rua, no centro, vai cair no Rio Verde. Toda poluição que acontece na cidade, em termos superficiais, ela acaba indo para um dos arroios ao entorno do centro.
Quando eu fiz o meu TCC de graduação [1987], a gente tinha um lixão a céu aberto. Depois desse lixão a céu aberto, virou um aterro controlado. Hoje não temos aterro. Continuamos produzindo lixo e muito mais hoje do que produzíamos no passado. Mas como encontrar uma outra forma de destino? Qual é o custo de tudo isso, não só o custo financeiro, mas o custo ambiental? Na verdade, o caminho deveria ter sido, para a sociedade como um todo, reduzir a produção de resíduos. Esse deveria ser o aspecto principal, o ponto principal. Mas a gente não consegue reduzir os resíduos, muito pelo contrário.
Então, os municípios precisam encontrar uma forma de conviver com isso. Ponta Grossa, dentro da opção que fez, conseguiu resolver em partes isso. A gente sempre foi contra a questão da queima do lixo. Mas nós temos agora uma empresa de biogás, que faz a queima do lixo. Por que a gente sempre foi contra? Porque você resolve um problema e cria outro. Você passa a poluir o ar com gases que nem todos eles têm controle. Por mais que diga que está dentro das normas, está dentro do que é permitido e tudo mais, existem coisas que acontecem no processo de queima que você muitas vezes não consegue controlar.
Tem o lado bom dessa história de queimar o lixo e tem o lado ruim também. Então, depende dos caminhos que isso vai seguir. Existe um outro lado em toda essa questão de resíduos. Por exemplo, Ponta Grossa também avançou nesse sentido, que é a questão das associações de catadores. Quando eu fiz a primeira pesquisa sobre resíduos em Ponta Grossa, o pessoal catava no lixão. Tinha gente que morava no lixão, em cima do lixão. E essa realidade foi mudando ao longo do tempo. Virou as primeiras cooperativas, depois viraram associações. Esse modelo das associações existe até hoje porque existem pessoas que dependem da catação para viver.
Pessoas que estão fora do mercado de trabalho, que não têm mais possibilidades de voltar para o mercado de trabalho e dependem da reciclagem. Uma das preocupações quando a gente discutia a questão da queima de resíduos era justamente isso.
Se você resolver queimar tudo que é produzido lixo, inclusive os recicláveis, que é possível, você elimina essa possibilidade de renda dessa parte da população que está excluída do mercado de trabalho. Então, existem questões sociais, ambientais que se entrelaçam em toda essa discussão.
Eu sempre defendi que Ponta Grossa deveria pagar para os catadores. E isso é feito em alguns municípios até menores, com um orçamento bem menor que Ponta Grossa. A cidade de Ventania paga para os catadores.
Além do catador receber pela comercialização do resíduo, ele recebe um pagamento da prefeitura. Não é um salário, porque ele não é funcionário, mas é uma bolsa, um repasse, que estabiliza a pessoa. A pessoa tem uma renda, independente das oscilações que ocorrem no mercado da reciclagem. Ventania tem, Palmital, na região central do Estado, tem também.
Mas Ponta Grossa não tem. Até tem a lei. Numa discussão que fiz, numa oportunidade, acabei conseguindo fazer com que um vereador colocasse o projeto em votação.
Foi aprovado, sancionado, mas disseram que não tinha verba, não tinha de onde tirar a verba para fazer o pagamento. A lei existe, mas ela não é executada.
Os catadores desenvolvem um trabalho ambiental extremamente importante. A gente não consegue mensurar isso, mas o trabalho deles é muito importante, em qualquer parte da cidade, no centro, na periferia. Deveriam receber por isso, mas não recebem.
Pelo seu currículo, vi que o senhor participou da primeira Conferência Paranaense de Emergência Climática em 2024. Poderia falar um pouco sobre o que foi esse evento, o que foi discutido e quais metas foram acordadas?
Essa conferência está vinculada ao NAPI, que é Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação, um modelo de pesquisa da Fundação Araucária. Em 2021, fui convidado por alguns colegas para fazer parte de um grupo de pesquisa de clima para discutir emergências climáticas no Paraná. Então, a gente criou o NAPI de Emergências Climáticas, financiado pela Fundação Araucária e eu sou o representante da UEPG.
Esse NAPI é para fazer um levantamento e discutir as mudanças climáticas no Paraná e as alternativas, adaptações que a gente pode buscar no futuro. Dentro desse NAPI, várias coisas estão previstas e, entre elas, a realização de uma conferência estadual.
Então, essa conferência foi para apresentar o status de pesquisa de cada um, ou de cada grupo. São cinco grandes grupos.
Faço parte do eixo quatro, que discute as questões climáticas na escala do clima urbano, principalmente. Existem profissionais de todas as áreas. Todas as Universidades Estaduais do Paraná estão nesse NAPI, o IBGE, PUC de Curitiba, e a Universidade Federal do Paraná.
A gente está agora na fase de finalização das pesquisas. Alguns já publicaram algumas coisas. Eu já publiquei, mas não temos dados finais ainda. Estamos em fase de finalização, de análise do material que foi produzido.
No meu caso, por exemplo, estou discutindo o clima urbano de Ponta Grossa. As outras universidades estão discutindo o clima urbano em outras cidades. O pessoal, por exemplo, da Agronomia está discutindo a questão de emergências climáticas na área da agronomia, dos reflorestamentos, na área florestal etc.
A gente está discutindo a diferença entre o clima que ocorre aqui na cidade e o clima que ocorre na zona rural. Mostrar, por exemplo, que o asfalto é o que mais contribui para o aquecimento da cidade, que as ruas mais estreitas, a ausência de vegetação no centro da cidade são responsáveis também pelas altas temperaturas. Mas, ao mesmo tempo, há áreas dentro da cidade que são mais frias, por exemplo.
Dependendo da localização, da posição dentro da cidade, nós também podemos provocar um resfriamento excessivo de áreas dentro da cidade.
Essas relações todas que acontecem dentro da cidade, que mexem com o clima urbano, a gente tem como alterar, entendendo como que isso ocorre, para que a gente possa propor medidas de adaptação. Arborizar onde não está arborizado e está muito quente. Não arborizar onde já é frio, pois se arborizar, vai esfriar mais ainda.
Tem uma discussão, por exemplo, falando de outros trabalhos, sobre os efeitos da mudança climática na Araucária. Tanto na distribuição das Araucárias, a variação de temperatura, o aumento de temperatura, vai comprometer o nascimento de novas Araucárias em determinadas regiões que elas nasceriam normalmente. Assim como o aumento da temperatura vai comprometer o desenvolvimento das Araucárias.
A gente tem a impressão que sabe tudo de clima. Ouve-se tanto, escuta-se tanta coisa. Mas na verdade tem muita coisa ainda para ser estudada, para que se possa propor, fazer propostas.
Quando finalizarmos, vamos levar esses resultados para a Câmara de Vereadores. Na questão de clima, uma das coisas que o município está fazendo, que vai ajudar de outra forma na questão climática, é a instalação de estações meteorológicas.
A Prefeita andou anunciando a instalação de várias estações meteorológicas. Uma das coisas que a gente precisa fazer para entender melhor o clima da cidade é monitorar, registrar dados. Você precisa registrar pelo menos durante 20, 30 anos para entender o clima local.
Mas é um passo. A cidade está instalando acho que 10 estações meteorológicas e esse é o caminho para, mais à frente, fazer um plano diretor, por exemplo, adequado com as mudanças climáticas que são observadas dentro da cidade.
Em sua análise, quais são os principais responsáveis por essa emergência climática?
Acho que o ser humano é o grande responsável, a partir do momento que começou o processo de industrialização no mundo. Mais de 200 anos atrás, à medida que começou a queimar o carvão mineral, depois passou a queimar o petróleo. Isso através dos automóveis, dos aviões, das indústrias, principalmente. A queima dos combustíveis fósseis aumentou a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera.
O aumento do rebanho bovino, por exemplo, no mundo, aumentou a quantidade de metano na atmosfera. O plantio em áreas inundadas, como, por exemplo, o plantio do arroz e outros plantios que são feitos em áreas inundadas produzem muito metano. Então, a gente aumenta essa quantidade de metano na atmosfera.
O metano tem uma capacidade de aquecimento 21 vezes maior que o dióxido de carbono. O efeito do metano é muito grande. O óxido nitroso, outro gás produzido na atividade industrial, na queima dos combustíveis fósseis, também tem uma capacidade de aquecimento muito grande. À medida que a gente vai aumentando esses gases na atmosfera, a gente vai aumentando essa capacidade da atmosfera se aquecer. E se aquece de que forma? A atmosfera se aquece a partir da irradiação feita pela superfície depois que ela é aquecida.
Esses gases absorvem muito essa radiação. Quanto mais você aumenta essa quantidade de gases, você aumenta essa capacidade de aquecer a atmosfera. Além disso, a gente aumenta o aquecimento da superfície quando mexemos na superfície, substituímos, por exemplo, uma floresta por uma área agrícola. Quando você vê um plantio de soja todo verdinho, na verdade, tem altas temperaturas em cima desse plantio, principalmente nos primeiros meses do desenvolvimento da planta. Aumenta ainda mais esse calor. Além de alterar toda a superfície, muda a composição do ar e, com isso, faz esse combinado de aumentar o aquecimento da superfície e colocar mais gases na atmosfera para aquecer mais. Isso vai resultar no aquecimento global.
Na verdade, tem um ciclo do carbono. Mas qual é a diferença? O que o homem tem feito de diferente que muda esse ciclo? É quando a gente derruba uma árvore, por exemplo. Quando ela não cai naturalmente, a gente acelera o retorno desse carbono para a atmosfera.
As florestas têm o seu desenvolvimento, atingem o máximo de desenvolvimento e depois as árvores começam a morrer, as folhas vão caindo. Ela vai se movendo e esse carbono volta para o solo e vai fazer todo o ciclo novamente. Quando a gente derruba, antecipa tudo isso. No caso do carvão e do petróleo, eles fazem parte também desse ciclo do carbono, mas é um ciclo muito longo, extremamente longo. O carvão que está lá nas profundezas, que é uma rocha, um dia ele vai voltar para a superfície, vai ser desgastado, erodido e vai voltar para a atmosfera, fazer parte do ciclo. Mas é um ciclo de milhões de anos. Quando retiramos o carvão, o petróleo e queimamos, aceleramos esse processo que iria acontecer em milhões de anos. Aceleramos isso por alguns anos ou menos.
Por isso, a responsabilidade sobre esse aquecimento global que está acontecendo agora. Esses eventos extremos que estão acontecendo agora são responsabilidade principalmente daquilo que temos feito ao longo desses últimos 150 anos. Desde que o homem começou a se tornar sedentário, ele foi gerando mudanças. Mas as mudanças iniciais ainda eram muito pequenas.
Essas mudanças se tornam significativas a partir da Revolução Industrial e no início do século passado mais propriamente. E tem um pico de aumento que ocorreu na década de [19]70. Houve mudanças na dinâmica mundial, na política mundial. A China começou a produzir muito, a industrializar muito e isso fez dar um salto na poluição na década de [19]70. O aumento da temperatura global se intensifica. Todos os últimos 15, 10 anos, tem sido os mais quentes da história.
Existe mudança climática natural? Existe. Já aconteceu no passado. Várias mudanças climáticas já aconteceram no passado.
Mas as mudanças climáticas naturais que aconteceram ao longo do passado foram ao longo do tempo geológico da Terra, muito lentas. Raras foram as situações em que ocorreu uma mudança climática mais rápida.
Alheia a essa mudança climática que estamos provocando, também está acontecendo mudança climática natural. Qual é a diferença entre a mudança climática natural e a que o homem provoca? É a velocidade, o tempo. Estamos fazendo mudanças climáticas muito rápidas e não vamos ter tempo de nos adaptarmos em função da velocidade. Se fosse um aquecimento que fosse acontecer em mil anos, dois mil anos, três mil anos, quatro mil anos, daria tempo a sociedade ir se adaptando bem lentamente e aprendendo a viver com isso. Mas na velocidade com que a gente vem provocando as mudanças climáticas, principalmente uma parte da população, não são todos os países, não são todas as cidades do mundo, vai sofrer os impactos mais drásticos da mudança climática, pelo menos num primeiro momento. As populações mais vulneráveis vão sentir primeiro, vão sentir mais forte essas mudanças climáticas.
Os efeitos, as consequências dessas mudanças climáticas são, na verdade, emergências climáticas que já estamos vivendo. A gente chegou nesse momento de emergência climática porque há 40, 50 anos atrás, quando se começou a falar da possibilidade de o que a gente estava fazendo ia mexer com o clima, ainda estava muito longe. Então, a gente não conseguia convencer as pessoas.
Em novembro deste ano, o Brasil sediará em Belém a 30ª Conferência das Partes (COP 30), promovida pelas Organizações das Nações Unidas (ONU), sobre a questão climática. Qual a importância de ter essa conferência para o Brasil e para o mundo e qual a sua expectativa sobre o evento?
Quando foi aprovada a ideia da COP 30 no Brasil, existia uma realidade no mundo. Essa realidade vem mudando bastante nesses últimos meses. Então, ficou a dúvida, qual vai ser o resultado que a gente vai conseguir de uma COP 30?
As COPs servem para definir como o mundo vai lidar com a questão das mudanças climáticas e das emergências climáticas no momento. A expectativa é que se avance nos acordos, que se consiga reafirmar alguns acordos que foram feitos em COPs anteriores, particularmente o acordo de Paris, feito em 2015. Existem algumas decisões que precisam ser retomadas, fortalecidas. Na medida em que os países se comprometem, mesmo que eles não cumpram o que se comprometem, mas existe um comprometimento que acaba acontecendo, você tem na COP um efeito em termos globais, locais também, de permitir ou possibilitar que a gente consiga atingir mais diretamente a população. Queiramos ou não, a gente precisa ter também a população envolvida em tudo isso.
As indústrias têm o papel principal. Os países desenvolvidos precisam fazer mais. O Brasil, por exemplo, é um país em que a maior contribuição para o efeito estufa está no desmatamento da Amazônia, nas queimadas. Mesmo a cidade de São Paulo, se a gente pegar as 10 cidades brasileiras que mais contribuem com o gás do efeito estufa, oito das 10 cidades estão na Amazônia.
Só São Paulo e Rio de Janeiro estão fora de lá. Por que essas cidades da Amazônia contribuem com o gás do efeito estufa? Pela queimada, pela derrubada da floresta.
Por isso essa preocupação em reduzir, acabar com o desmatamento na Amazônia. Tanto que a COP vai ser lá [em Belém]. Mas já mudou muito. Já foi muito pior. Já se desmatou muito. Hoje ainda se desmata bastante, porque é muito grande a floresta, mas não chega nem a 10% do que já se fez de desmatamento nas décadas de [19]80 e [19]90.
Com o passar do tempo, a política foi mudando, a forma de viver e de atuar na Amazônia foi mudando e melhorou bastante. Mas está bem longe de ser o ideal.
Também não tem ideal em lugar nenhum do mundo. A Europa também não reduziu o seu consumo de carvão e de gás. Os Estados Unidos também não reduziram, muito pelo contrário, vem aumentando. Por isso a importância da COP.
É preciso haver um entendimento e uma ação global. Assim como não adianta a gente imaginar que pode resolver o problema do aquecimento global com um plantio de árvores ali e tal, não. Isso é simbólico, importante. Mas, na verdade, essa mudança na questão ambiental e na questão climática vai acontecer na medida em que os países assinem os tratados e se comprometam a minimizar. Se fala muito do aquecimento de um grau e meio, que já está chegando a dois, na verdade. No ano passado, já tivemos alguns dias em que o aquecimento chegou a dois graus acima da média do pré-industrial.
Quer dizer, a gente já aceitou esse aquecimento. Parte desse aquecimento já está aceito, que é esse um grau e meio. Então, se a gente voltar, por exemplo, na minha infância, nos anos [19]70, a gente tinha um outro clima diferente do que se tem agora. Como muitas outras pessoas devem lembrar, a gente ainda está conseguindo conviver com essa condição climática. Mas a hora que passar dos dois graus, vai ficar bem mais quente. A gente vai ter os invernos, os períodos frios, mas a gente vai ter extremos maiores. E são esses extremos que vão dificultar. E um outro detalhe é que a gente não sabe exatamente como esse clima vai funcionar a hora em que todas essas mudanças climáticas se consolidarem.
O nível dos oceanos vai continuar aumentando por 200 anos, mesmo que cessasse toda a mudança climática agora. Porque é uma dinâmica, é uma questão física. Então, precisamos nos adaptar. Precisamos nos tornar mais resilientes. As cidades precisam se preparar.
As cidades litorâneas vão ser mais afetadas. Porto Alegre vai ter problemas futuros. Rio de Janeiro, as cidades do litoral de São Paulo. Isso vai continuar acontecendo e vai continuar crescendo. Às vezes a gente se pergunta, mas por que o ser humano não sai do litoral e não vem para o interior? Mas não vai vir! Os mais jovens vão ver isso. O pessoal vai sofrer com o aumento do nível dos mares, vai ser devagar, as marés vão cada vez batendo mais para dentro e vão sofrer. Mas só quem vai sofrer, de fato, é a população que não pode sair. Quem tiver recurso, condições, vai sair na hora que a coisa apertar. Quem não tem, é que vai acabar sofrendo mais.
O senhor falou da questão política e de quanto isso é importante para enfrentar o desmatamento. Na semana passada, a Câmara Federal aprovou o Projeto de Lei 2159/2021, que ficou conhecido como o PL da Devastação. Em sua opinião, quanto essas alterações na atual legislação ambiental podem impactar a questão climática do nosso país?
Uma das expressões que foi utilizada para falar disso é que é um retrocesso. É um retrocesso para aquele momento que se desmatou muito. Na verdade, a gente foi melhorando a nossa legislação, avançando. Hoje, essa lei vai fazer com que a gente dê um salto para trás. E não dá para saber exatamente até onde a gente vai voltar. Mas, com certeza, essa lei vai permitir coisas que foram proibidas alguns anos atrás, 10, 20, 30 anos atrás. Leis que foram criadas e que ajudaram a diminuir o desmatamento na Amazônia, que ajudaram a diminuir as queimadas.
Essas leis caem por água abaixo. Todo esse avanço que a gente teve ao longo do tempo cai por água abaixo na aprovação dessa lei. Não acho que o presidente [Luiz Inácio Lula da Silva] vai conseguir vetar. Pode até vetar, mas eles vão derrubar o veto. Eles têm maioria no Congresso. Então, isso é uma condição que vai ter que trabalhar agora.
Isso tem muito a ver com os deputados, com os senadores. Mesmo que a oposição seja minoria, ainda tem condições de discutir, de negociar, de intervir. Mas as ações que vão resultar dessa legislação, a gente nem consegue visualizar na escala municipal ou na escala estadual. São muitos interesses, às vezes de grupos muito específicos que estão por trás da aprovação de uma legislação como essa. É lógico que vai ter gente que vai entrar nesse bote, aproveitar o embalo e fazer coisas que nem pretendia.
Retomando a discussão do local, quando a gente retira vegetação, remove vegetação para construir a cidade, a gente provoca uma alteração definitiva na paisagem, que vai resultar numa mudança climática definitiva naquele local.
Pensar isso do ponto de vista de uma mata, de uma floresta, seja aqui da Mata Atlântica, seja em florestas ainda preservadas, no Mato Grosso, na Amazônia, em São Paulo, sempre que a gente pensar na remoção dessa vegetação, o primeiro impacto é o aumento da temperatura da superfície local.
Depois vêm os impactos secundários. O que vai ser feito com essa madeira? O que vai ser feito com essa vegetação? Vai queimá-la? Construir? Dependendo do uso dessa vegetação, vai piorar ou não, mais rápido ou mais devagar, as condições ambientais, em termos de poluição do ar, mudança climática, aquecimento da atmosfera. Pode ser, às vezes, uma ação pontual, assim como pode ser uma ação de grande escala.
Muitos provavelmente têm interesses na Amazônia. Isso está relacionado com mineração, com coisas que vão impactar. E não é só mineração. Tem expansão de áreas agrícolas, pecuária. Todos vão se aproveitar da nova lei.
A gente tem que entender que ninguém quer morar nos matos. A gente quer morar na cidade. A mesma coisa com relação ao desenvolvimento, à produção industrial. Tem muitas coisas que a gente não quer abrir mão. E quando a gente não quer abrir mão dessa produção industrial, tem que assumir que a produção industrial vai resultar em impactos ambientais. Isso faz parte das decisões que a gente vai tomando, seja na escala do indivíduo, seja na escala do município, do Estado como um todo.
Sobre a matéria
O Portal Mareli Martins é parceiro do serviço de extensão do Curso de Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), numa iniciativa de produzir conteúdos de temática sobre meio ambiente (pautas, reportagens e entrevistas completas) para os veículos locais, como um serviço de agência de notícias aberto. A produção é feita por estudantes de Jornalismo, com a orientação/supervisão dos professores coordenadores do projeto.
A reportagem desta quarta-feira (30) tem como tema a emergência climática e abordada pelo professor do Departamento de Geociências da UEPG. Gilson Campos Ferreira da Cruz.
A matéria foi produzida pela estudante do 3º ano de Jornalismo da UEPG, Amanda Grzebielucka, sob a orientação da professora do Curso de Jornalismo da UEPG, Hebe Gonçalves, coordenadora do Serviço de Extensão Pauta Ambiental.